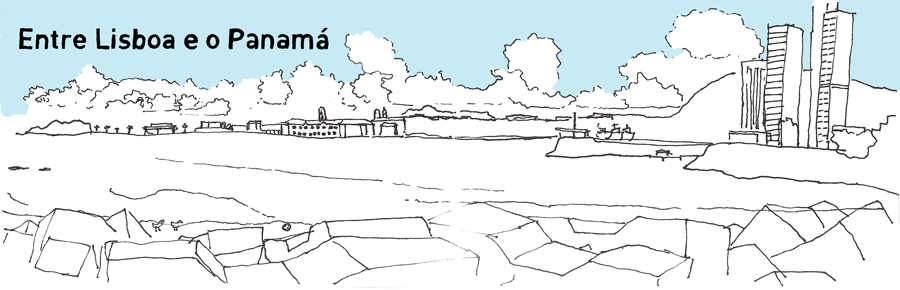A visita a uma das minas do Cerro Rico, em Potosí, não foi uma experiência feliz. Que não pensem que não gostei: gostei. Mas é algo verdadeiramente impressionante: a pobreza, a falta de higiene básica, as condições de trabalho, a qualidade do ar, tudo é extremo e miserável naquela vida de mina. Aos sete anos de trabalho da mina, quase invariavelmente as pessoas adoecem e em todas as famílias há alguém que está acamado ou já morreu por complicações daí derivadas.
A visita começa com o juntar do material: impermeáveis para pôr em cima da roupa, botas, capacetes e a luz. Daí, vamos para o mercado. Para que serve esta ida ao mercado? Para comprar presentes para dar aos mineiros.
A mina é explorada por cooperativas e cada mineiro vende aquilo que extrai. Uma das formas que encontraram para aumentar os seus (magros) rendimentos é abrir a mina ao turismo, coisa que se transformou numa indústria paralela à extractiva.
Qualquer pessoa em seu juízo completo vê aquelas condições de trabalho e pensa duas vezes: por isso mesmo vamos ao mercado comprar folhas de coca, que serve de combustível geral - e, paradoxalmente, para entorpecer - quem lá trabalha.
Para além da coca, compramos também álcool e um refrigerante. O álcool é a 96º, ou seja, álcool de desinfectar feridas, só que potável e com um ligeiro sabor açucarado. Há quem o beba assim, directamente da garrafa. Mas com a ajuda do guia (aliás, o guia, perante o nosso olhar atónito), lá se faz uma mistura com refrigerante, que vamos distribuindo aos mineiros que vamos encontrando.
Antes de entrarmos na galeria da mina, conversamos um pouco com quem está a descansar ao sol, a mascar coca e a beber (claramente para esquecer). Têm vinte anos ou menos e todos aparentam ser mais velhos que eu. Provavelmente não chegarão aos 30, certamente não chegarão aos 40, segurissimamente não terão nunca 50 anos.
E entramos no buraco escuro.

Os olhos habituam-se progressivamente à fraca luminosidade proporcionada pelo candeeiro empoleirado no capacete e lá vamos progredindo, umas vezes de pé, outras quase de joelhos, com muitas cabeçadas ("capacetadas") nas paredes e no tecto das galerias. Aos nossos pés, às vezes há rios de uma água laranja que só pode ser tóxica. Do tecto pendem cristais de arsénico, responsável por muitas das doenças dos mineiros. Tirar fotografias é quase inútil: as partículas de pó em suspensão reflectem a luz do flash. Para quê tirar fotografias se aquelas imagens nunca vão conseguir sair da minha cabeça?
Quando encontramos mineiros, sentamo-nos a conversar com eles, damos-lhe folhas de coca e também mascamos folhas de coca. A seguir, fazemos o inevitável brinde com a bebida carregada de álcool a 96º: o primeiro sorvo é para a Pachamama, e por isso devemos entorná-lo para o chão (deixem-me acrescentar aqui que a Pachamama bebeu sempre grandes quantidades do meu copo, já que eu tratava sempre de entornar mais que de beber).

Se cá fora está Deus, lá dentro está o Diabo. E é ao Diabo que é consagrado o altar mais imponente. Chamam-lhe "Tio", para não atrair a má sorte, e tratam-no como se de um deus se tratasse: tem direito a brinde, a cigarros e a folhas de coca. Tem forma antropomórfica, botas e luvas de mineiro, e um descomunal pénis erecto, para que ninguém esqueça a sua condição humana.
A claustrofóbica que vive em mim já estava desejosa de rever a luz de dia, de beber água e de lavar as mãos e foi com alívio que vi o guia encaminhar-se no sentido que eu pensava ser o da saída.
Cá fora, respirei com imensa alegria o ar rarefeito dos 4200m acima do nível do mar.